«A new documentary by the South African civil rights group AfriForum exposes uncomfortable truths about revolutionary Nelson Mandela's African National Congress (ANC), including the fact that much of the Soviet-backed party's violence was directed at black people who refused to fall in line. The film, Tainted Heroes, also shows the unfathomable brutality employed by the ANC, its terrorist wing, and the South African Communist Party that controlled it behind the scenes in the effort to seize political and economic power over South Africa. Especially noteworthy is the ANC's brutal war against black organizations and individuals viewed as rivals.
As the United Nations-supported and Soviet-directed chaos and horror was unfolding — mass-murder of dissident blacks, savage torture of political enemies, the deliberate targeting of innocent women and children, and more — establishment media organs in the United States and across the Western world concealed the truth. And so, much of the real history of the ANC and its bloody “struggle” has remained carefully hidden from the public to this day. But now, with the new film, and the emergence of the Internet, the untold history of the ANC is finally coming out.
That myths about the ANC persist even today is obvious — many ignorant and uninformed people have little to no knowledge of the group's real history aside from bogus platitudes and mythology. For instance, the ANC and its revisionist allies around the world like to pretend that the organization was merely involved in a “freedom struggle” against the apartheid system and the former white-led government. Mandela is often inaccurately characterized as a “political prisoner” who was jailed merely for his belief in “democracy” and his peaceful opposition to apartheid, a system of government-enforced segregation that was already being dismantled even before whites voted to surrender power in 1992.
But the film shatters many of the ANC myths and lies. Some of the most shocking testimony in the film comes from black victims of the ANC, as well as from ANC operatives who participated in the atrocities against both white and black civilians. Others shown in the film describe the brutal and deliberate murder of their families — including young children — by the ANC's terrorist wing. Indeed, one former ANC operative interviewed and shown in the film describes how the ANC made a conscious decision to target even the wives and children of South African farmers for extermination.
Many scenes of the film are difficult to watch. Especially horrifying, for example, are the graphic descriptions and images of a terror tactic pioneered by the ANC for use against their black political enemies. It became known as “necklacing.” Basically, if a black person was suspected of being loyal to the government or hostile to the ANC, the ANC cadres would fill a tire with gasoline, put it around the victim's neck, and set it on fire. The death is perhaps among the most excruciatingly painful imaginable.
And yet, Mandela's wife at the time, Winnie Mandela, promoted the barbaric form of execution — no trial needed — as a means of “liberating” South Africa. “Together, hand-in-hand with our sticks of matches, with our necklaces we shall liberate this country,” she declared. Many children were murdered through “necklacing,” merely for being suspected by the ANC of sympathizing with opponents of the ANC. Others were beaten or stoned to death. The overwhelming majority of ANC victims were civilians.
So violent were the ANC and Mandela, the leader of its terrorist wing known as Umkhonto we Sizwe, that the party and Mandela himself were added to the U.S. State Department terror list, only being removed less than a decade ago. While the film does not focus too much on Mandela, perhaps to avoid controversy, both the ANC and the South African Communist Party revealed after his death that he had lied all along. Not only was Mandela a member of the Communist Party, which he always denied, he was on its decision-making Central Committee, often referred to as the Politburo. An unpublished draft of Mandela's autobiography released after his death also shows his full-blown support for violence, terrorism, and communism.
The film is just as relevant today, if not more so. It details how current South African President Jacob Zuma, who is pushing to steal land and wealth without compensation and openly sings genocidal songs advocating the slaughter of the embattled Afrikaner minority, joined the Communist Party in 1962. He then went to Moscow and was trained by the murderous Soviet KGB. Indeed, virtually every South African ANC leader since 1994 of any significance — from presidents to party bosses — has been a known member of the Communist Party with training and support from some of the world's most murderous regimes.
Of course, the significance of this should be obvious, but communist atrocities and mass-murder have also been largely swept under the rug by the establishment, its propaganda organs, its “education” establishments, and its pseudo-historians. As numerous reliable sources have documented, though, estimates suggest the communist regimes that backed the South African communists murdered more than 100 million of their own people in the last century, not including those slaughtered in wars.
The film, unfortunately, likely due to time constraints, glosses over much of that horrifying history. But is does a great service by providing factual information about South Africa that is often lost amid the propaganda version of history pushed by the ANC and its allies. While never defending the government-enforced system of segregation known as apartheid, the documentary does offer context and balance that is almost entirely absent in history books that often falsely equate it with mass murder, slavery, Nazism, and other horrors.
Part of the idea behind separate development, for example, was an effort to mimic Europe, with sovereign, independent, self-governing homelands being created for the multitude of nations and peoples that call Southern Africa home. The film also explains how the policy came about, how it came to be discredited, and how the whole issue was weaponized and exploited by blood-thirsty and murderous communist revolutionaries to seize power using terror.
And so, the documentary spends much time explaining how the mass-murdering communist regimes ruling the Soviet Union, Vietnam, China, and other nations supported and guided the ANC and its totalitarian agenda. The film features numerous experts, participants, and others describing how South African terrorists were sent all over the world — from Southern Russia and Indochina to other communist-ruled nations across Africa — to indoctrinate them with Marxist “ideology” and train them to wage a campaign of mass murder and terror.
The documentary makers do an excellent job of showing how the communists worked in South Africa. Basically, a small core of communist revolutionaries in the South African Communist Party directed a vast army of people Lenin used to refer to as “useful idiots,” in this case the ANC masses secretly led by the Communist Party who were duped into helping to forge new chains for themselves under the Soviet-inspired guise of “liberation.” Despite the ostensible collapse of the Soviet regime, such tactics continue to be used today by communist revolutionaries around the world, making the film important for people everywhere to understand, not just in South Africa.
Of course, the ANC, which is right now in the process of driving South Africa into the ground, was not amused with the explosive documentary airing its bloody laundry. But rather than address any of the facts, ANC spokesman Zizi Kodwa was instead quoted viciously (and falsely) demonizing the people who produced the film with the party's standard response to factual criticism. “They have failed in the past working with other sources to delegitimize the ANC. This is nothing else but propaganda,” he said. “They should be doing a film about how many of them in AfriForum have collaborated with apartheid. They are nothing else but hardcore racists.” AfriForum and its leadership have always been consistent against racism, of course.
 |
| Ver aqui |
The ANC spokesman also smeared fellow black people who appeared in the film and helped expose the ANC, its tactics, its history, and its totalitarian agenda. “Many of the voices in the film, like the IFP [Inkatha Freedom Party], were voices that collaborated,” Kodwa declared, smearing the Zulu party for collaborating with the apartheid-era authorities in a bid to defeat communist terrorism and prevent the enslavement of South Africa under a Soviet puppet regime like so many others in Africa. “The ANC remained the most prominent voice among the oppressed people. It enjoyed a lot of support.” Of course, as the film shows, the reality is not nearly so simple.
Ernst Roets, deputy CEO of AfriForum, was in the United States earlier this year showing the film across multiple cities. But rather than focusing on getting out the documentary to the masses, the organization is working on reaching opinion molders and other influencers in America and around the world with the truth about the ANC. “We decided to start in the U.S., since the U.S. is one of the major players in international politics,” Roets said. “Our approach is like that of a sniper, rather than shotgun tactics. Our goal is not necessarily to reach masses of people with the overseas viewings, but to reach those who have the greatest influence on world politics.”
Unfortunately, while the film hints at the issue, it does not spend as much time as it probably should have exposing the establishment and globalist forces in the Western world that backed the ANC even as it was massacring innocent whites and blacks in a brutal campaign of terror. As this magazine has been documenting for decades, South African communists had friends in high places, not just in Moscow, Beijing, Havana, and at UN headquarters in New York City, but in Washington, D.C., London, and beyond. Those forces proved crucial to the communist takeover of South Africa.
Especially important to helping the communist terrorist movement's meteoric rise to power was help from organizations such as the globalist Council on Foreign Relations (CFR) and its sister organs in other countries. Those forces also played a key role in sidelining black leaders opposed to communism and the ANC, including black leaders who were brought to America on speaking tours by The John Birch Society, which publishes this magazine, and other conservative and anti-communist organizations. This magazine extensively documented the facts at the time. But as far as the establishment was concerned, the black opponents of communism and the ANC did not even exist, despite often having far more legitimacy and support than the ANC within South Africa.
While communists and establishment globalists may have succeeded in keeping the facts concealed for a few decades, the truth is finally coming out. The documentary will undoubtedly play a valuable role in educating Americans, young South Africans, and people around the world about what really happened to that land. Recent developments in South Africa suggest strongly that the country is now on the verge of multifaceted catastrophe of immense proportions. The timing for this important film Tainted Heroes is fortuitous».
Alex Newman («New Film Exposes Takeover of South Africa by Communist Terrorists», in The New American, 13 May 2017).
«Lisboa, 12 de Março [de 1962] - Como é o português? Homem de entusiasmos eufóricos e de desalentos; capaz de maledicência mas sem sentido crítico nem autonomia mental; crédulo e impressionável, sobretudo perante quanto provenha do estrangeiro; oscilante em face de sucessivas verdades que lhe sejam sopradas; improvisador e habilidoso (não hábil); esperto, sim, mas para tomar sempre a opção mais fácil, arredando quaisquer sacrifícios ainda que se percam valores essenciais. Comentando o nosso carácter, Salazar deixou cair estas frases: "A nossa gente não aguenta a nossa política. Se em lugar de governarmos este país, governássemos outro, conseguia-se mais. Neste, a gente puxa, puxa, mas como não dá, temos a tendência para nos nivelarmos à massa".
Lisboa, 23 de Março - Acompanho Salazar na visita ao Palácio da Ajuda e sua capela. Objectivo: examinar os arranjos feitos para a cerimónia de imposição do chapéu cardinalício ao núncio Giovanni Panico, há pouco elevado à púrpura. Espanto-me sempre: a capacidade de Salazar em observar, em se concentrar, em se interessar pelo mínimo pormenor parece inesgotável. Durante duas horas, para aquele homem nada mais existiu ou importou no mundo senão o aspecto de uma tapeçaria, a posição de uma cadeira, de um móvel, de um quadro, de uma simples jarra. Dois pontos impressionam: o sentido do gosto, da distinção, do muito bom, do aristocratismo; e a obsessão de impressionar bem os estrangeiros, de marcar perante estes uma superioridade nacional. A superioridade de fazer bem feito o que há a fazer. É o velho "talent de bien faire".
[...] Lisboa, 31 de Janeiro [de 1963] - Recebidas notícias mais do que inquietantes quanto à política americana em África: socialização de toda a África como meio de aumentar a sua dependência do exterior; montagem de uma rede de informações sob a capa do Peace Corps; não rejeição (embora sem apoio directo) da eventualidade de os grupos terroristas solicitarem a intervenção de forças da ONU. De Gaulle opõe o seu veto à entrada da Inglaterra no Mercado Comum: a atitude é sobretudo antiamericana: trata-se de vincar uma oposição à interferência de Washington em África, e na própria Europa.
Lisboa, 8 de Fevereiro - Conferência de imprensa. Resposta a Ben Bella: se entre os atacantes de territórios portugueses forem encontrados argelinos, estes serão sumariamente executados. Iniciadas negociações para a compra, por nós, do caminho-de-ferro da Trans-Zambézia. Por estranho que possa parecer, o meu ataque a Ben Bella foi bem recebido em Brazzaville, Tananarive, Léopoldville, etc. É o ódio ancestral entre o negro e o árabe.
Lisboa, 11 de Fevereiro - Num grande comício em Argel, Ben Bella respondeu-me: "Sr. M. dos N. E. de Portugal, saiba que nem o Sr. nem o seu governo, nem todos os fascistas do mundo poderão deitar a mão à Argélia". Pois não. Mas também não constam que queiram. Pelo menos nós certamente não queremos. Quanto aos fascistas do mundo, não sei: se existem, não os conheço, nem tenho deles novas ou mandados.
[...] Nova Iorque, 1 de Novembro - Duram duas semanas os contactos luso-africanos. Comunistas estão suspeitosos; e americanos e escandinavos estão suspeitosos. Acaso será possível um entendimento entre portugueses e africanos? Há que evitá-lo. Pressões invencíveis pretendem levar os africanos à ruptura. Sucedeu hoje. Num corredor da ONU cruzo-me com Diallo Telli, secretário-geral da Organização da Unidade Africana, e natural da Guiné. Diz-me sem pestanejar: a OUA aprova a realização de um plebiscito na África portuguesa, como sugerido por mim nas conversações, mas os seus resultados apenas seriam aceites se fossem favoráveis à África, e isso porque os africanos não aceitam que haja um milímetro quadrado de território africano que tenha ligações políticas com um país não africano. Também não pestanejei ao elogiar esta concepção de democracia e de respeito pela vontade dos povos.
[...] Lisboa, 18 de Outubro [de 1965] - Apenas hoje leio um manifesto da oposição, publicado há dias. De novo defende a autodeterminação, conduzida por Portugal, "de maneira a reconquistar-nos prestígio e a boa-vontade da ONU". E acusam-nos de estar "encostados" à Rodésia e à África do Sul. Quando oiço ou leio estas coisas, fico perplexo. Entregar o Ultramar - para conquistar que prestígio? E o que é e em que se traduz a boa-vontade da ONU? Entregue o Ultramar, e supondo parvamente que isso nos dava prestígio, ficaríamos com esse prestígio para sempre e dele viveríamos? E a boa-vontade da ONU manifestava-se como? Por uma resolução encomiástica? Decerto que seríamos elogiados - porque haveríamos feito o que a ONU queria. E daí? Repetia-se a resolução laudatória? E isso ajudava a sustentar o povo português? Francamente, equacionar Angola com umas frases hipócritas das Nações Unidas - é tão absurdo que parece não deveria ocorrer a alguém em seu juízo. Mas parece que ocorre.
[...] Nova Iorque, 8 de Novembro - Já suscita interesse menor a reunião do Conselho de Segurança contra Portugal. Poucos jornalistas, escasso público nas galerias; delegados de outros países, esses, ainda são numerosos, acicatados pela curiosidade. E cá temos a Libéria, a Tunísia, a Serra Leoa e Madagáscar a brandir o gládio contra nós, a zurzir-nos com as acusações já puídas pelo tempo e pelo uso. É o ritual: Portugal não cumpre a Carta da ONU, temos câmaras de tortura e conduzimos uma operação planificada de genocídio, ameaçamos a paz e a segurança do Mundo; e o homem da Serra Leoa diz mesmo que andamos pelo mundo a comprar jactos de combate e submarinos, assim como quem se fornece de brinquedos para os filhos pequenos. Não tenho dúvidas no meu espírito de que reduzi a estilhas as barbaridades dos africanos. E até é já fácil fazê-lo: os argumentos são tão ingénuos e as acusações tão descomunais de exagero e extravagância que a sua refutação não é tarefa de monta. Mas isso a nada leva: o problema não é de lei, de lógica, de razão, de justiça, de direito, de dialéctica: é político: e consiste em que umas forças e uns interesses se querem apoderar, no sentido literal do termo, do ultramar português. Mais nada: o resto - é a paisagem do costume.
[...] Lisboa, 27 de Dezembro [de 1965] - Como eu dissesse que todos os problemas, em conjunto e ao mesmo tempo, formam um inferno, Salazar comentou: "Ah! sim, muito pior do que no tempo da guerra de Espanha, muito pior do que durante a Grande Guerra. Nada então se comparava em dificuldade e complexidade com os anos actuais. Ah! eu só queria ter menos vinte anos, porque então levava isto ao fim". Como o Silva Cunha e eu disséssemos que decerto levaria isto ao fim, Salazar replicou: "Hum! não levarei: mas se eu tivesse menos vinte anos! Ah! então havia de pôr os pretos contra os pretos, e os brancos contra os brancos, e todos embrulhados". E Salazar revolve, uma sobre a outra, as duas mãos fechadas como para dar um murro, significando que punha todos em bulha. Depois, concentra-se e diz: "Mas gosto disto, gosto, gosto da luta, do combate". Comentei que por mim já estava satisfeito de tanta luta, Salazar riu-se, e concordou que efectivamente tem sido um bocado de luta a mais.
[...] Lisboa, 27 de Dezembro [de 1966] - No dia de Natal, houve um formidável ataque terrorista a Teixeira de Sousa, mesmo na fronteira. Avaliados em 500, os terroristas sofreram para cima de 200 mortos. Foi uma estrondosa vitória dos nossos - mas é a esta sangria que a política da ONU conduz os povos. Correu viva a conferência de imprensa.
[...] Pretória, 26 de Julho [de 1967] - É um salto de avião, de Lourenço Marques a Pretória. Mas aqui é outra África: na paisagem humana, no teor geral da vida, nos pormenores mínimos do comportamento de cada um. É uma África ocidental, decerto, mais de um ocidente que, à parte os aspectos técnicos, se diria haver parado no século XIX ou mesmo XVIII: é a África boer, com qualquer coisa de saxónico, de holandês, de luterano, e para além disso há a multidão negra. Mas sente-se logo que quem administra, governa e possui o país, são os brancos; e ao lado destes é consentida uma população preta e indiana, que vegeta na periferia, e à margem do cerne da nação. E é evidente a serena decisão do boer: nada o demoverá deste país. Visitei um grande centro de investigação científica: ao que percebi, trata-se do que há de mais moderno nas novas técnicas: e compreendi que a ciência é cultivada aqui em termos de defesa nacional. Não podem subsistir dúvidas: o boer jogará a vida, e fá-la-á pagar por alto preço.
Depois da solenidade e cerimonial com que fui acolhido no aeroporto, tive minuciosa conversa com o ministro dos Estrangeiros, Hildgard Muller. De origem germânica, é reservado sem o parecer; mas de apurada cortesia, e bem construída afabilidade. Nada me disse de fundamental, ou de novo. De parte a parte, foi um repisar do mesmo disco, em que as duas faces são muito concordantes. Mais tarde, duas horas compactas com o Primeiro-Ministro Voster. Este é personalidade muito densa e vincada: calmo, lúcido, decidido, corajoso, bem informado: um boer típico, em termos actualizados, e que pode além disso presenciar o ruir do mundo sem se perturbar. Conversa de alta importância: afirmou-me que considerava a nossa luta em Angola e Moçambique como luta pela defesa da África do Sul e que, por isso mesmo, Pretória estava pronta a intervir militarmente para nos apoiar, se a situação o requeresse. Disse-lhe esperar que não chegássemos a esse apuro, e que não era de natureza militar a colaboração que pretendíamos do seu país».
Franco Nogueira («Um Político Confessa-se. Diário: 1960-1968»).
«O general Spínola tem duas fases na vida dele. Uma, em que se dedicou à Guiné, à parte militar, ao desenvolvimento social - foi a fase nobre da vida dele. Depois, deixou-se deslumbrar pela política, com influência de alguns deputados da ala liberal. Ele nunca me mostrou as cartas que tinha recebido. Depois disse-me que tinha recebido directivas, mas que continuava fiel ao presidente do Conselho. Mas o general Spínola, com todas as qualidades que tem, tem um defeito: é muito vaidoso. A certa altura, deixámo-nos de falar, e ele criou aquele mito da impossibilidade da defesa militar da Guiné, que o levou a ser substituído pelo general Bethencourtt Rodrigues que, pelo contrário, dizia que a Guiné era susceptível de ser defendida desde que tivesse mais meios - e os meios ainda foram conseguidos no meu tempo. A última vez que fui à Guiné foi em 1972. Senti que o general Spínola estava diferente. Quando ele levantou o problema do colapso militar, eu estava na última fase como ministro do Ultramar. Mas mandou-se à Guiné o general Costa Gomes que, quando regressou, disse que a Guiné era perfeitamente defensável desde que se mudasse o dispositivo. Foi na altura em que se resolveu substituir o governador. Fui eu que fiz o convite ao Bethencourt Rodrigues para ir para a Guiné. Eu combinei com ele falar num sítio onde não houvesse muita gente, e fomos para São Julião da Barra. Mas estava cá uma esquadrilha inglesa de acrobacia aérea, e foi um inferno para lá chegar.
Cheguei a São Julião da Barra, ele estava lá e eu disse-lhe: "Trago-lhe uma boa notícia. Você vai para a Guiné. Nós precisamos de si na Guiné. Diga que sim". Ele aceitou. Foi à Guiné, fez um estudo da situação, veio cá e disse, confirmando o que o Costa Gomes tinha dito: "A Guiné é defensável, mas tem que se mudar o dispositivo. E têm que ser reforçados certos meios de defesa". Mas a partir de certa altura, quando começou a cair a vontade de luta do general Spínola, começou-se a dizer que a guerra subversiva não era susceptível de ser vencida. Não é verdade: os ingleses venceram a guerra subversiva no Quénia, na Malásia... Na guerra subversiva, a tendência é para se passar para a guerra convencional, porque a guerra subversiva provoca a desordem mas não consegue dominar o território. Eles passaram a vida a dizer que a guerra subversiva não era susceptível de ser vencida, e quando, na Guiné, passaram para a guerra convencional, começaram a dizer que a guerra convencional não era susceptível de ser vencida. Foi quando começaram a evocar a falta de material, argumento que nós anulámos porque conseguimos o material. O Bethencourt Rodrigues foi informado de que estava em preparação a remessa de material, para além de termos mandado muito material disponível, que fazia parte da defesa do continente. Disse-me que ia mudar o dispositivo e que aquilo seria perfeitamente dominável.
 |
| Posse de Silva Cunha como ministro do Ultramar (1965). |
Conseguimos artilharia em Israel, porque uma das coisas de que se queixavam na Guiné, era que a artilharia deles tinha alcance superior ao da nossa. Conseguimos os Red Eye, mísseis terra-ar individuais, na Alemanha. Não sei quem os vendia, só sei que eles nos forneciam 500 Red Eye americanos. Aí, também houve influência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas indirecta. Esteve no meu gabinete o general Étoile, que era quem superintendia nas vendas dos aviões Mirage, e que nos fez uma oferta de Mirage, pondo como única condição ficarem com base em Cabo Verde. Eu disse-lhe: "Não preciso dos Mirage em Cabo Verde, mas na Guiné". Ele respondeu: "O senhor sabe muito bem como é que isso se faz depois". Oficialmente os Mirage não podiam ter base na Guiné. Eu nem sei se, depois do 25 de Abril, o material veio ou não. Discuti também com Pieter Botha o fornecimento de excedentes, em vez de os venderem ou mandarem para a sucata, vendiam-nos a nós. Havia sido negociado um contrato de empréstimo até seis milhões de contos, mas em vez de ser em dinheiro era em material. Em compensação, nós vendíamos à África do Sul petróleo de Angola. Este contrato ficou assente, mas depois não teve seguimento. O reequipamento tinha uma verba à parte, que saía parcialmente daquele Fundo de Defesa do Ultramar. Eu deixei no Ministério cerca de oitocentos mil contos, os tais que ninguém sabe onde foram parar. Eu sei que na noite do 25 de Abril a primeira coisa que eles fizeram foi porem uma equipa de contabilistas no Ministério a verificar a minha contabilidade, onde não faltava meio tostão. Para gastos confidenciais, duzentos mil contos; para reequipamento, seiscentos mil contos.
[...] Em determinado momento, o almirante Crespo disse que o general Spínola estava a escrever um livro e que não havia muita vantagem em que o livro fosse publicado. Isto passou-se quando eu ainda estava no Ministério do Ultramar. Uma tarde, chegou um despacho do general Costa Gomes, dizendo que o livro do Spínola estava pronto para ser publicado. Eu disse: "Ele não pode publicar o livro sem eu o ter lido". Os militares no activo não podem publicar nada sem autorização superior. Mas Spínola recusou-se a dar-me o livro para ler, embora ele minta e diga que eu tinha conhecimento do livro, insinuando que tinha sido por intermédio da DGS. Mas a DGS também não sabia do livro. Fui ter com Marcello Caetano e disse-lhe: "O livro não pode ser publicado sem autorização, mas ele recusou-se a entregar-mo". Então, Marcello Caetano respondeu-me: "Para não estarmos a criar um problema, você encarrega o general Costa Gomes - que era o superior hierárquico do general Spínola - de ler o livro e de lhe dar um parecer". Então chamei o general Costa Gomes e ele deu-me um parecer favorável. Nessa altura, despachei nestes termos: "Embora não tenha conhecimento do livro, porque não me foi facultado para ler, confio no parecer do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Publique-se».
Silva Cunha («África a arder», in José Freire Antunes, «A Guerra de África - 1961-1974», Vol. I).
«Fui para a Guiné em Setembro de 1973, por convite pessoal do presidente do Conselho, Marcello Caetano, depois de uma reunião sobre a província que ele tivera com os ministros da Defesa Nacional, dos Negócios Estrangeiros e do Ultramar e com o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e que descreve no seu livro Depoimento. Tratava-se da substituição do general António de Spínola, que pedira a sua exoneração após a sua permanência na província desde 1968. Segundo a tradição, deveria acumular a função de governador com a de comandante-chefe, o que era carga excessiva para a mesma pessoa, como previa e vim a verificar. Justificava-se, porém, porque uma elevada percentagem de quadros da província era ocupada por militares (270 militares exerciam em regime exclusivo funções civis e 137 em regime de acumulação) e era também muito importante a contribuição das Forças Armadas nos domínios da construção de escolas, postos sanitários, habitação e estradas. Ao contrário das comissões que fizera em Angola, em Bissau vim encontrar um quartel-general guarnecido, organizado e em pleno funcionamento, e um esplêndido comandante-chefe adjunto, o brigadeiro Leitão Marques, com uma grande experiência, magnífica preparação profissional e inexcedível lealdade. Infelizmente já desaparecido deste mundo, aqui lhe presto mais uma vez uma comovida homenagem, enaltecendo o valor da sua colaboração. Com um quartel-general em funcionamento e com um adjunto experiente e de qualidade, foi para mim muito mais fácil iniciar verdadeiramente as minhas funções, quer no gabinete quer no exterior.
 |
| Chegada a Bissau de Bethencourt Rodrigues |
 |
| Fuzileiros na Guiné |
 |
| Sobrevoo e ataque a sanzalas na Guiné. |
Estava também a ser ponderado um certo retraimento do dispositivo, afastando da fronteira as guarnições militares, como já se havia feito em Madina do Boé. Deste modo, para as flagelações, o PAIGC teria de instalar os seus meios em território da província, tornando-os mais vulneráveis às intercepções durante o percurso e susceptíveis de serem batidos pelos nossos meios, sem actuar sobre território dos Estados vizinhos e não havendo, portanto, lugar para queixas às Nações Unidas, como vinham fazendo. Nas suas acções, o PAIGC demonstrava uma certa capacidade de comando e de organização, revelada, por exemplo, no adequado balanceamento de meios para actuar sobre sucessivos sectores da fronteira. No entanto, deve assinalar-se que, apesar de numerosas flagelações sobre as nossas guarnições, em caso algum se verificaram tentativas de ocupação dos objectivos atacados. E quando foi possível às forças flageladas executar acções dinâmicas e directas sobre as bases de fogo, quando em território nacional, conduziram sempre ao seu levantamento e dispersão das suas guarnições. O PAIGC recebia material de guerra moderno e eficiente em quantidades vultosas, destacando-se nesse material os foguetes terra-ar, que determinavam alterações na conduta das operações, os RPG 2 e 7, com significativo efeito psicológico sobre o nosso pessoal e os materiais de artilharia e morteiros.
As características naturais do teatro de operações, a evolução das forças do PAIGC e a sua liberdade de movimentação e de acção do outro lado da fronteira, a dureza e exigência das condições de acção e de vida das nossas tropas e as dificuldades de manobra de meios limitavam em grau considerável a capacidade de iniciativa do Comando e configuravam a gravidade da situação militar que se vivia na Guiné. Importa, porém, afirmar que as nossas tropas tinham acesso a quase todos os pontos do território, com medidas de segurança de intensidade variável, que os comboios auto de reabastecimento circulavam pelas estradas, que o dispositivo militar cobria todo o território, que ocupávamos com guarnições militares ou de milícias 225 localidades. Queria mencionar dois pontos de doutrina: 1. A acção subversiva visa a destruição ou capitulação da autoridade de facto existente, para a substituir. Este é, a meu ver, o ponto de referência, o sinal indicativo do sucesso ou insucesso daquela acção. 2. Porque o que importa é a decisão final, que não pode ser menos que o desaparecimento de uma das partes, a guerra subversiva não concede condições de viabilidade a soluções de compromisso. No tipo de soluções de compromisso pode, por exemplo, incluir-se o cessar-fogo».
José Manuel de Bethencourt Conceição Rodrigues («Do princípio ao fim», in José Freire Antunes, «A Guerra de África - 1961-1974», Vol. I).
«Na verdade, o facto de um território com a superfície da Guiné se encontrar encravado entre dois estados não alinhados com Portugal colocava a solução do problema num quadro eminentemente regional, o que possibilitava a sua solução dentro das capacidades financeiras e militares. Assim, o grande objectivo preconizado por "A Solução do Problema da Guiné" resumia-se a duas linhas de força:
- acelerar a promoção económico-social da Província, em equilíbrio com a promoção sócio-cultural das populações autóctones tendo em vista eliminar as causas da subversão;
- ganhar o tempo necessário e assegurar o espaço vital para se atingirem em tempo útil os objectivos primários da política nacional.
 |
| Alpoim Calvão |
A conclusão deste documento não deixa margem para qualquer dúvida, ao afirmar peremptoriamente:
"O tempo corre a nosso favor na medida em que formos concretizando os objectivos sócio-económicos, que anulam as razões básicas da subversão. Portanto, caminhamos para a vitória final, e esta encontra-se perfeitamente ao nosso alcance".
A doutrina com que, entretanto, Amílcar Cabral incentivava os quadros do PAIGC assentava em apregoar os malefícios do colonialismo e as virtudes da luta de libertação, bem expressas nas "Palavras de Ordem Gerais", um opúsculo que o Secretariado-Geral do PAIGC editara e difundira em Novembro de 1965.
O pensamento de Cabral aí exposto, com a apregoada concepção humanista do seu autor a ser desmentida a cada parágrafo, fazia a apologia da violência e do ódio, incitando à destruição de tudo aquilo que os portugueses haviam construído, mesmo que fossem os frutos de uma acção benéfica para o povo guineense:
"(...) A definição do Povo depende do momento que se vive, na terra.
População é toda a gente, mas o povo já tem que ser considerado com relação à própria história. Mas é preciso definir bem o que é o povo, em cada momento da vida de uma população. Hoje na Guiné e em Cabo Verde, povo da Guiné ou povo de Cabo Verde, para nós, é aquela gente que quer correr com os colonialistas portugueses da nossa terra. Isso é que é o povo, o resto não é da nossa terra nem que tenha nascido nela. Não é o povo da nossa terra, é população da nossa terra, mas não é povo. Hoje é isso que define povo da nossa terra. Povo da nossa terra é todo aquele que nasceu na nossa terra, ou na Guiné ou em Cabo Verde, que quer aquela coisa que corresponde à necessidade fundamental da história da nossa terra, que é o seguinte: acabar com a dominação estrangeira na nossa terra. Aqueles que estão prontos a trabalhar duro nisso, a pegar teso, são todos do nosso Partido. Portanto, a maior parte do nosso povo é nosso Partido. E quem mais representa o nosso povo, é a direcção do nosso Partido. Que ninguém pense que lá porque nasceu no Pico da Antónia ou no fundo do Oio, ele é mais povo do que a direcção do nosso Partido, mentira. O primeiro pedaço do povo da nossa terra, genuíno, é a direcção do nosso Partido, que defende os interesses do nosso povo e que foi capaz de criar todo este movimento para defender os interesses do nosso povo.
Vou tentar esclarecer ainda mais este problema: toda a gente da população da nossa terra que quer, neste momento, que os colonialistas portugueses saíam da nossa terra, para tomarmos a nossa liberdade e a nossa independência, esses são o nosso povo. Mas entre essa gente há alguns que pegaram no trabalho a sério, que lutam com armas nas mãos, ou no trabalho político ou na instrução ou em qualquer outro ramo, e que estão debaixo da direcção do nosso Partido. Se quiserem, a vanguarda do nosso povo é o nosso Partido e o elemento principal do nosso povo, hoje em dia, é a direcção do nosso Partido. Portanto, aqueles que têm amor pelo nosso povo, têm amor pela direcção do nosso Partido. Quem ainda não entendeu isto, não entendeu nada ainda"».
Rui Hortelão, Luís Sanches de Baêna e Abel Melo e Sousa («Alpoim Calvão. Honra e Dever»).
«Spínola, quando chegou à Guiné, fez uma coisa revolucionária: considerou que uma guerra daquele tipo só se ganhava politicamente e nunca militarmente. A única coisa que ele pedia aos militares era que não perdêssemos a guerra para lhe darmos tempo para a resolver politicamente. A partir disso, toda a manobra militar da Guiné esteve subordinada à manobra política do general. Ele traçou a sua manobra política, à qual a manobra militar ficou subordinada.
[...] Spínola ouvia muito o Ricardo Durão e o Rafael Durão. Ao núcleo duro do staff dele pertenciam eu, o Carlos Morais, mais tarde o Dias de Lima quando o Carlos Morais acabou a comissão, o Carlos Azeredo, o João Almeida Bruno, o Firmino Miguel e o Pereira da Costa. O Azeredo tinha uma certa "pancada", mas o resto era gente normal. Uma noite este grupo, excepto o Dias de Lima, reuniu-se em Bissau, depois de fazer um estudo exaustivo do que se estava a passar no país e nas colónias, e chegou à conclusão que a maneira de resolver o problema nacional era destituir o Governo e substituí-lo por alguém que quisesse resolver os problemas nacionais, como era o caso do Spínola. Puseram-se várias hipóteses, até que assentámos no projecto de transformar Spínola numa figura nacional, de tal maneira importante que eles não pudessem po-lo numa prateleira, quando ele regressasse a Lisboa. Quando o Spínola tivesse uma posição importante em Lisboa, ia colocando os seus homens de confiança, que eram muitos, nos lugares importantes. No momento em que ele achasse que tinha o espaço nacional coberto por pessoas da sua confiança, subia a escadaria de São Bento, batia à porta e dizia ao Marcello: "Gostei muito deste bocadinho, mas vá-se embora porque quem manda agora sou eu". Seria um golpe de Estado típico. Isto falhou porque o Spínola, apesar de ter ido para um lugar importante, que foi criado de propósito para ele - vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas -, nunca conseguiu pôr uma pedra dele em nenhum sítio porque não o deixaram. Entretanto, mobilizaram-se jornalistas, portugueses e estrangeiros. O Dominique de Roux, francês, era um dos homens que estava connosco. O Victor Direito, do República, também».
Carlos Fabião («Milícias negras», in José Freire Antunes, «A Guerra de África - 1961-1974», Vol. I).
 |
| Dominique de Roux em Moçambique, com o actor francês Maurice Ronet. |
 |
Ver aqui |
[...] O conjunto de oficiais que fizeram o movimento de 25 de Abril era constituído por antigos combatentes da Guiné mentalizados pelo general Spínola, na maior parte oficiais superiores, que tinham uma ideia de uma solução política para o Ultramar que previa um conjunto de autonomias ou mesmo independência dentro de uma comunidade lusíada; foram mais tarde reconhecidos por "spinolistas" ou ala moderada do MFA. A este grupo, relativamente restrito, juntou-se um grupo muito maior de oficiais, na maioria capitães, que se moviam por motivos corporativos (a questão dos milicianos) e pela recusa de continuar a guerra do Ultramar. Mais novos e radicais, eram muito mais numerosos. Em 1972 terminei a última comissão em África e vim para cá. Fui colocado no Centro de Instrução de Condutores Auto (CICA), no Porto, e fui comandante do 25 de Abril no Norte. Quero-lhe dizer que, no Norte, se fez o 25 de Abril muito antes: às 4.20 da manhã de 24 para 25 tínhamos tudo nas mãos e estava a coisa resolvida. Tínhamos um plano de operações totalmente independente. A única coisa que nos ligava a Lisboa eram os sinais de rádio, o E depois do Adeus e o Grândola, Vila Morena. Quem fez o plano de operações para o Sul foram o Casanova Ferreira e o Manuel Monge. Só que foram os dois presos por causa da revolta das Caldas, o Otelo Saraiva de Carvalho ficou com o planeamento, distribuiu-o e assumiu-se como o cérebro. Eu conheci o Otelo na Guiné, quando ele estava na Repartição da Acção Psicológica, com o Lemos Pires e o Ramalho Eanes. Eles pertenciam a essa repartição e, em parte, o Otelo era o locutor da nossa rádio, que tratava por "bandido" o Amílcar Cabral e a gente do PAIGC. Isto porque havia toda uma acção psicológica dirigida ao inimigo, través da rádio, e o Otelo trabalhava nisso. Mas, voltando ao 25 de Abril, o nosso plano no Norte era totalmente independente. No nosso planeamento movimentámos as unidades de Chaves, Bragança, Viana, Lamego, Gaia e Porto que actuaram conforme o previsto, ocupando postos emissores de rádio e TV, aeroportos, saídas para Espanha, QG, etc. Às 4.20, depois de ocupar o quartel-general, tocou o telefone. Falava o ministro do Exército, general Andrade e Silva, a mandar o Regimento de Cavalaria 6 imediatamente para Lisboa. Perguntou quem é que estava ao telefone e eu respondi-lhe: "Daqui fala o tenente-coronel Carlos Azeredo, que acaba de conquistar o quartel-general para o movimento do general Spínola e do general Costa Gomes". Ele disse: "Ah, ah, muito engraçado!" Eu respondi: "Senhor ministro, rirá melhor quem rir por último". E pousei o telefone».
Carlos Azeredo («Síndroma da Índia», in José Freire Antunes, «A Guerra de África - 1961-1974», Vol. I).
Ajuda de Pretória
A partir de 1966 [ P. W. Botha] foi um ministro da Defesa cujas opiniões e posições tinham o poder de afectar toda a África Austral. Ficou fascinado com Salazar e as suas concepções sobre o declínio da Europa, mas disse-lhe que Portugal ia perder a guerra porque subestimava o desenvolvimento económico e o progresso social. Aconselhou-o também a não confiar nos militares. Comungou com o seu amigo Ian Smith o desejo de intervir mais em Moçambique e em Angola para suprir as insuficiências portuguesas. Elevou a um novo patamar a cooperação militar tripartida (África do Sul, Rodésia e Portugal) e o intercâmbio entre os respectivos serviços secretos: BOSS, CIO, PIDE-DGS. Conheceu Caetano em Lisboa e achou-o debilitado pelas lutas internas. Nega que a África do Sul, ao colaborar secretamente com Portugal, quisesse abrir uma terceira frente de hostilidade, através do ataque à Tanzânia. Culpa os Estados Unidos e os promotores de uma satânica nova ordem mundial a ser criada pelo homem, sem Deus. Pieter Willem Botha, o lendário PW, primeiro-ministro (1978-1984) e presidente da República (1984-1989), foi um «peso pesado» da política regional durante a guerra na África lusófona.
Veio a Portugal no final de 1966 e no ano seguinte foi condecorado pelo Governo português com a grã-cruz da Ordem Militar de Cristo. Esteve com Câmara Pina, Salazar, Franco Nogueira. Então um jovem e impulsivo ministro sul-africano, criticou em São Bento a política de assimilação. Mas era mais forte aquilo que o unia a Salazar - a luta contra o comunismo.
Tive contactos directos e indirectos, antes de me tornar ministro da Defesa, com as autoridades portuguesas de Moçambique e Angola. Fui a Luanda e a Lourenço Marques. No final de 1966, quando já era ministro da Defesa, fui a Portugal para conversações bilaterais. O meu principal anfitrião foi o general Câmara Pina, um homem charmoso e interessante, altamente inteligente. E enquanto tínhamos discussões sobre matérias militares de interesse mútuo, com o ministro da Defesa e outros oficiais, o general Câmara Pina perguntou-me se eu gostaria de conhecer Salazar. Claro que sim, disse eu, se fosse possível, mas pensando que isso não seria possível. Câmara Pina disse que ia tratar do caso. Suponho que levantei a Câmara Pina uma objecção quando ele me sugeriu que me encontrasse com Salazar. Quando entrei na residência de Salazar, às seis e meia da tarde, fiquei numa pequena sala do tamanho de um estúdio. Lembro-me que nas estantes havia livros sobre África. Comigo estavam o general Câmara Pina e, segundo creio, o director da polícia política. O assunto principal da reunião era a cooperação entre Portugal, Moçambique e a África do Sul no plano económico, na área militar e ao nível político. Nós já tínhamos boas relações com Portugal. O ministro dos Negócios Estrangeiros do anterior governo da África do Sul era um bom amigo de Franco Nogueira, e tinha-me falado bastante de Salazar, que conhecera pessoalmente. Fiquei impressionado com a personalidade de Salazar como estadista. Falava devagar, de modo gentil, foi honesto na sua abordagem dos problemas. A certa altura da reunião levantei-me e disse: «Bem, acho que é tempo de me ir embora». Ele insistiu: «Não, não, quero falar mais consigo». E falámos durante mais de uma hora. Tinham-me dito que ele costumava estar com as pessoas só um quarto de hora, no máximo.
 |
| Botha em Lisboa, acompanhado dos generais Câmara Pina e Gomes de Araújo (29 de Março de 1968). |
Eu quis saber de Salazar o que é que podíamos fazer para estreitar a troca de informações secretas entre os governos de Portugal e da África do Sul. Salazar perguntou-me o que é que eu pensava da situação na África Austral em geral e da situação em Angola e Moçambique em particular. Dei-lhe uma resposta franca, porque eu era então um jovem ministro impulsivo e uma pessoa franca: «Penso que vocês vão perder a guerra». Ele perguntou porquê. Eu disse que era porque Portugal advogava um sistema político baseado na assimilação, mas na verdade não praticava esse sistema.
Tinha estado em Moçambique e cheguei à conclusão de que os responsáveis cometiam erros na relação com as populações. Era preciso haver nos territórios portugueses maior desenvolvimento económico, um maior ajustamento, uma maior cooperação. Salazar escutava muito abertamente o que eu dizia, e ia fazendo perguntas. E depois perguntou-me se eu podia repetir ao ministro do Ultramar, Silva Cunha, o que tinha dito a ele, Salazar. Eu disse que sim e ficou combinada uma reunião para a manhã seguinte. Mas enquanto Salazar me ouviu abertamente e me pôs questões, Silva Cunha não me pareceu muito ansioso em ouvir-me. Fiquei com a impressão de que estava a falar por cima da cabeça de Silva Cunha.
Mas a conversa com Salazar foi muito interessante e não me esqueço dela. Ele expressou os seus pontos de vista sobre a situação no mundo. O seu grande tema era «o declínio da Europa», como lhe chamou. Segundo ele, a Europa tinha entrado num processo de declínio e África teria gravíssimos problemas por causa disso. «A África está em fogo», disse-me Salazar. E mais: «Estou a avisá-lo. O senhor é jovem e, se viver o suficiente, verá o dia em que a África será dividida em duas: uma a norte, de Dar-es-Salaam até à bacia do Congo; outra, a África Austral, que ficará isolada». E disse mais: «Se não soubermos agir, os Estados Unidos ficarão isolados do resto do mundo livre». E o senhor sabe uma coisa? Aqui, onde estou sentado a falar consigo, já pensei muitas vezes nas palavras de Salazar, porque o que ele me disse está a tornar-se verdade.
Salazar foi um visionário. E era também uma pessoa agradável, de quem se gostava pessoalmente. Não faço segredo desta opinião sempre que falo com alguém sobre Salazar. Digo sempre: «Ele foi uma das mais importantes e mais impressivas personalidades que conheci na minha carreira política». Isto foi no final de 1966 e foi a única vez que me encontrei com Salazar. Ele deu depois instruções aos ministros para que cooperássemos na troca de informações e para nos mantermos em contacto. Com o meu homólogo, Sá Viana, tínhamos essa cooperação que foi fortalecida por iniciativa de Salazar. Rebelo veio à África do Sul e eu fui outra vez a Portugal a seu convite. Quando me condecoraram em Portugal, penso que foi o general Gomes de Araújo que me condecorou, fui a um jantar oferecido pelo Governo e Franco Nogueira estava lá. Ele conhecia muito bem a África do Sul porque era amigo do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul. Pareceu-me que Nogueira era um homem brilhante, com uma disposição positiva em relação à África do Sul e muito franco. Se ele discordava de algo dizia-o em termos muito francos, não era hipócrita, era um homem brilhante e civilizado.
P. W. Botha encontrou-se também com Caetano e recolheu uma ideia de intranquilidade. Foi-se tornando mais preocupante a situação militar em Angola e em Moçambique, onde o MPLA e a Frelimo se aliavam aos guerrilheiros que atacavam a África do Sul e a Rodésia. Ian Smith e P.W. Botha encontraram-se em Salisbúria e decidiram pressionar Lisboa a uma maior cooperação trilateral no plano militar.
As coisas na África Austral tornaram-se piores para o Ocidente. Para pena minha, Salazar morreu. Fui a Portugal discutir com Caetano, entre outras matérias, a possibilidade de cooperação na exportação de petróleo de Cabinda para a África do Sul. O petróleo de Cabinda é de um tipo especial: é branco, e podia ser tratado nas nossas refinarias. Se pudéssemos obter esse petróleo resistiríamos melhor ao embargo que nos foi imposto. Caetano era também um homem afável, mas era diferente de Salazar. Fiquei com a impressão de que estava rodeado de problemas no poder. Por essa altura, segundo creio, visitei Moçambique a convite das autoridades portuguesas e fui recebido pelo general Arriaga. Fui com o general Fraizer, um proeminente militar da África do Sul. Visitámos, acompanhados do general Arriaga, alguns pontos militares, até à fronteira com a Tanzânia. Ele mostrou-me o que se pretendia fazer para desenvolver a agricultura e fixar as pessoas nos aldeamentos estratégicos, para estabilizar a situação. Lembro-me que o general Arriaga estava muito preocupado com o apoio que recebia das autoridades de Lisboa. Disse-me que eram tomadas decisões em Lisboa por quem não conhecia o terreno e a verdadeira realidade de Moçambique. Estava também muito preocupado com a situação em Angola e na Guiné. Arriaga era um homem muito clarividente. Ele estava muito preocupado com a situação em Moçambique, que conhecia bem, e veio à África do Sul. Tivemos muitas conversas com ele, aqui.
 |
| Botha com Câmara Pina na Fábrica de Material de Guerra (7 de Maio de 1969). |
Penso que depois da morte de Salazar as forças à volta de Caetano interpretaram a situação em África de uma maneira diferente. Mas lembro-me de ter dito a Salazar que ele não podia confiar nas suas Forças Armadas. A nossa perspectiva era divergente num ponto: eu pensava em termos de manter a ordem, mas ao mesmo tempo pensava numa administração civil forte e apropriada e na necessidade de haver desenvolvimento económico. Salazar não pensava assim. O que nós fizemos foi, a certa altura, dar ao Governo português uma série de aviões Dakota. Mas quanto aos Mirage, que o senhor diz que seriam para atacar as bases na Tanzânia, isso não sei. Tínhamos poucos Mirage disponíveis e estávamos a desenvolver a nossa indústria de material de guerra. O caso da Tanzânia é capaz de ter sido discutido com as autoridades portuguesas. Talvez tenhamos expressado a nossa concordância com esse tipo de cooperação. Se a ideia foi discutida - e aqui não estou a recorrer a notas mas apenas à minha memória - foi uma ideia vinda dos portugueses, que queriam proteger Moçambique dos ataques que vinham das bases. Mas a África do Sul, por ela própria, não tinha interesse na Tanzânia. A Tanzânia era o principal santuário da Frelimo, mas nós já estávamos a lutar em duas frentes. Tínhamos problemas originários em Angola e na frente oriental e para a África do Sul era muito importante não abrir uma terceira. Talvez Ian Smith partilhasse essa minha opinião. Eu estava realmente inquieto quanto ao modo como os portugueses faziam a guerra. Fui muito firme durante as nossas conversações e expressei os nossos pontos de vista. Mas devo lembrar que Portugal era muito orgulhoso da sua soberania e da sua independência e a nós, como nação independente, não nos cabia prescrever as soluções a Portugal. Sempre pensámos que Portugal tinha boas relações com a Grã-Bretanha e que era membro da NATO e não interferíamos porque sabíamos que o comunismo era um perigo na África Austral. Perigo em que Salazar acreditava, eu acreditava e ainda hoje acredito.
Olhando para trás, e agora estou só a teorizar e a filosofar, sem as minhas notas e os meus documentos, penso que Portugal era um elo importante entre a África Austral e a Europa. Era. E com um homem como Salazar no poder, esse laço estava a fortalecer-se. Porque a perspectiva de Salazar não era a de um ditador cruel. Era a perspectiva de uma cooperação entre o mundo ocidental e África. E de tornar África disponível através da Europa Ocidental. Salazar, na minha opinião, não confiava nos Estados Unidos. Eu também não tinha confiança nas políticas dos Estados Unidos. Um certo senador americano visitou-me e esteve aí sentado, na mesma cadeira em que o senhor está: «Mr. Botha, o que é que pensa dos Estados Unidos?» Eu perguntei-lhe: «Quer uma resposta diplomática ou uma resposta franca?» Ele disse que preferia uma resposta franca. Então eu disse que os americanos, como indivíduos, eram agradáveis e aceitáveis. Mas como país, como nação, não eram. «Porquê?», perguntou ele. Disse-lhe que pensava na história dos Estados Unidos para formular a minha opinião. Sob George Washington, eles tinha lutado pela liberdade. Mas desde então alguma coisa mudou no caminho dos Estados Unidos. Tornaram-se polícias de todo o globo. Hostilizaram De Gaulle na Segunda Guerra Mundial. Ele não gostava deles. Traíram a China de Chang Kai-Chek. Não trataram a Formosa (Taiwan) correctamente. «E por isto tudo», disse ao senador, «eu não gosto de vocês como nação, embora, como indivíduos, vocês possam ser aceitáveis». Não tenho comigo as notas nem os documentos para poder demonstrar o que vou afirmar, mas sei que havia enormes forças a trabalhar a partir de Moscovo, através de certos países do Ocidente e mesmo nos Estados Unidos, para criar uma nova ordem mundial. E eu não acredito numa nova ordem mundial. Não me interessa o que o senhor possa pensar sobre isto, mas eu não acredito numa nova ordem mundial criada pelo Homem. Não acredito que os seres humanos sejam capazes de criar uma nova ordem mundial. Acredito em Deus todo-poderoso, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Não acredito é que os seres humanos possam fazer esse trabalho por Deus. Portanto, não sou um seguidor da ideia de uma nova ordem mundial. O humanismo não pode ser um substituto para o Criador e para as ideias do Criador sobre a humanidade. (In José Freire Antunes, A Guerra de África - 1961-1974, Círculo de Leitores, Vol. I, 1995, pp. 225-230).
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |




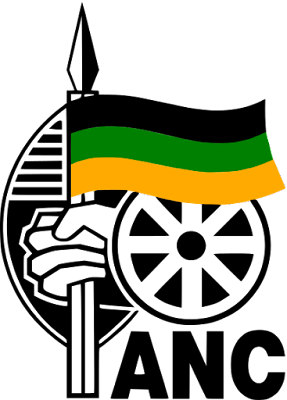







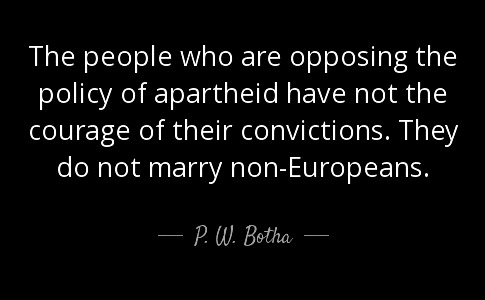







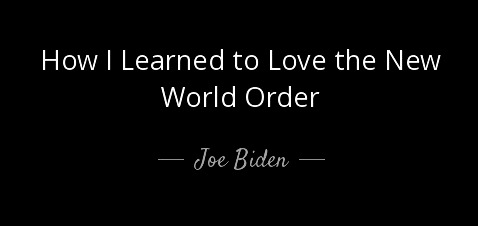
























Nenhum comentário:
Postar um comentário